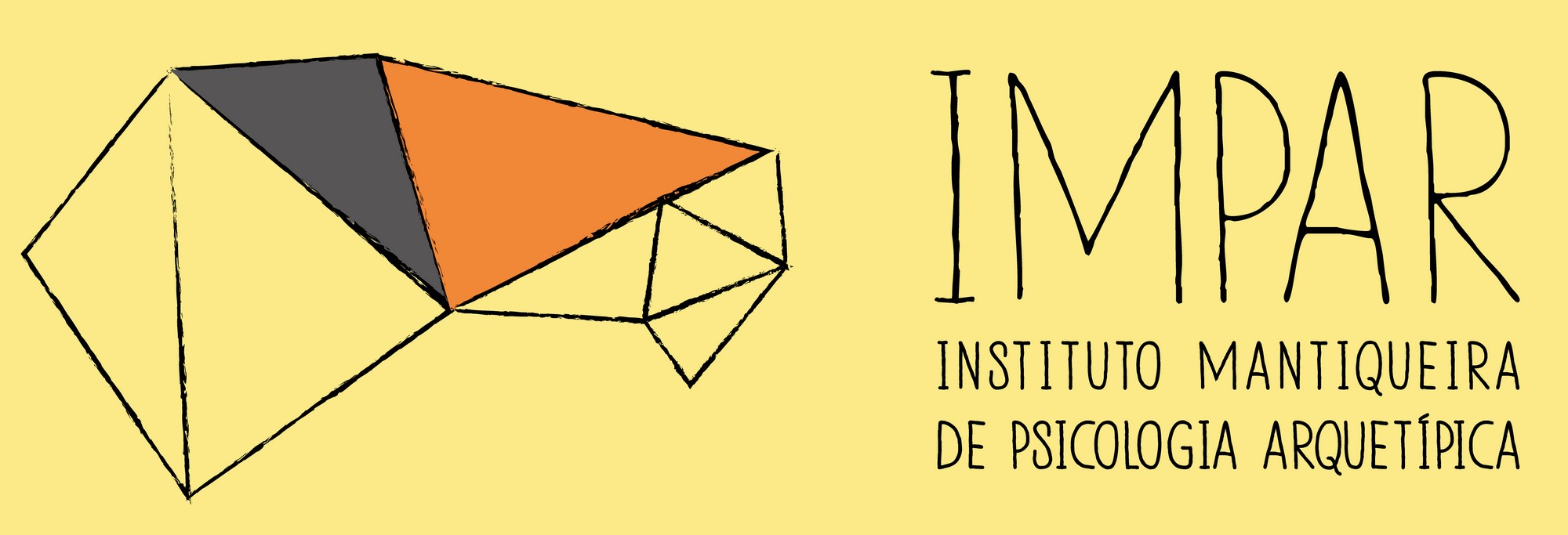Hermenegildo Anjos
Um paciente, anos atrás, referindo-se à hora da terapia, disse-me brincando, ainda que seriamente, como era bom poder ir ali regularmente despejar todo seu lixo. Noutra ocasião, referiu-se ao “ir ali” como para vomitar. Poderia ter dito, embora nem precisasse, que ia ali igualmente para “obrar”, como se dizia antigamente na região onde cresci. A terapia como vaso sanitário de higiene mental. Desde então, essa imagem me ficou gravada e foi relembrada agora, por conta da proposta temática desse encontro.
Obrar. Estamos aqui pra isso, seja no sentido escatológico pessoal do entendimento do paciente em questão, seja no sentido escatológico arquetípico de realização da Alma, como nós estudantes de psicologia arquetípica costumamos entender. Aprendemos com os alquimistas que o excremento é matéria prima da obtenção do ouro. O material primário de nosso trabalho parece ser portanto de alguma forma merda, então… vamos à merda, por que não dizer, vamos ao lixo que somos, pois tudo aquilo que chamamos de nós provavelmente seja a grande merda ou barro que temos na mão no processo contínuo do fazer Alma. Aproveitemos a ocasião (não que sejamos aproveitadores) para refletir sobre o lixo rotineiro despejado em grande parte da terapia e, por que não dizer, da vida.
Em questões de lixo, penso que devamos começar sempre pelo nosso próprio pedaço de calçada, então comecemos com o meu próprio lixo. Digamos que grande tempo da terapia costuma ser consumido em meio à nigredo, fase em que o vaso terapêutico poderia ser descrito talvez como uma espécie de “penico alquímico”. Lembro-me quando comecei a fazer terapia, aos vinte e poucos anos de idade, onde contava meus sonhos, meus segredos, meus anseios, sofrimentos e certamente, devia falar muito de tudo isso a partir de um lugar vitimizado, embora não me desse conta. Depois de certo tempo, não muito, meu analista, que não era exatamente de Bagé, indagou-me se naquele meu modo de falar não havia o tom de uma anima lamuriosa. A essa altura, já tinha alguma leitura junguiana e fiquei paralisado de vergonha, sentindo-me muito mal em ser visto como uma mulherzinha queixosa sentada ali. Naturalmente, naquele momento, minha reflexão foi restrita ao alto grau de miopia do meu campo visual psicológico da época. Falando nisso, interessante imaginar o terapeuta também como uma espécie de oculista promotor da visão psicológica. Já o pude ver como sacerdote, curador, alquimista, artesão, servente, dentista, parteiro, advogado (do Diabo, geralmente), terrorista, puta e outros que não me ocorrem no momento, mas como oculista exatamente, nunca tinha imaginado antes. Mas a terapia, pode-se dizer também, é uma espécie de tratamento das vistas.
Voltando. Na ocasião, simplesmente fiquei tremendamente vexado de estar tão mal na foto. A intervenção terapêutica daquele momento destampou-me efetivamente pela primeira vez a consciência da identificação com um papel, de vítima, no caso, algo extremamente comum em nosso funcionamento ordinário, mas que na época, pude reconhecer claramente como marca do matriarcado familiar pessoal, repleto de mães extremamente poderosas, mas sempre queixosas, eternamente insatisfeitas e cuja retórica me vi reproduzindo da alguma forma. Aquilo teve o impacto de uma grande revelação e pude, por exemplo, ver meu pai pela primeira vez de outra forma que não do jeito de minha mãe ou da maioria de minhas tias que pareciam subestimar ou mesmo ignorar o grande provedor que ele era, apresentando-o predominantemente como um bobo sempre incapaz de ser mais esperto, firme ou poderoso. Foi o golpe de Bagé que eu precisava naquele momento. Foi como se algo houvesse se deslocado em mim, no interior do meu olhar, mudando minha perspectiva de forma contundente e me tivesse sido apresentada uma nova lente, bem diversa, o que me fez inclusive ficar um bom tempo de prevenção contra as Mães literais do clã.
Hoje reflito que este episódio marcante de terapia me permitiu adentrar na reflexão de Jung acerca da necessidade de desidentificação da Anima com a Mãe, ou o que também, em minhas leituras da época, von Franz ressaltava acerca do significado do resgate da princesa do poder da bruxa nos contos de fadas. Atualmente, nos termos de Hillman, leio como a importância alquímica da Alma desembaraçar-se da perspectiva materialista, na qual a interpretação personalista heróica, literal e insaciável do reino das Mães impera.
Atualmente, posso compreender melhor que queixa vitimizada não seja sinônimo de feminino e sim de consciência arquetípica materno-infantil ego-centrada ou anti-psicológica, perspectiva até hoje plenamente ativa em meu dia-a-dia para minha própria perplexidade a despeito de esforços constantes na direção contrária. É como se tivesse que tomar vergonha continuamente nesse sentido, uma vergonha da qual já tratei aqui na metáfora de “uma puta emoção”. Algo que hoje entendo como eternamente fundamental nessa obra que nunca cessa. Parece que as inevitáveis literalizações diárias do eu sejam portanto nosso lixo emocional ordinário inevitável e interminavelmente produzido, nossa efetiva psicopatologia do cotidiano e sempre renovado material de trabalho de reciclagem psicológica. Entendo que o eu, na qualidade de um complexo palco, tendo que incessantemente atuar os dramas da Alma, inevitavelmente tenha que partir do literal sempre. Dessa forma, a nigredo recria-se a cada dia nos “meus” dramas e passo diariamente a ser o lixo a ser processado, a ser desliteralizado no trabalho mercurial reflexivo que poderíamos chamar de psico-ecológico.
Resumindo o caso. Apesar desse choque inicial, o que se seguiu foi que muito tempo se passou em terapia e segue se passando em minha vida na qual a perspectiva personalista e/ou materialista se manteve e se mantém, onde as percepções, as lógicas, os valores e suas imagens são interpretados predominantemente de forma pessoal, vestidos caricaturalmente de “meus”. Ao que parece, somos de fato nós mesmos enquanto identidade pessoal o eterno material do trabalho psicológico. O lixo sou eu e provavelmente não posso seguir fazendo Alma senão a partir desse perene “lixeu”.
A Obra, na linguagem dos alquimistas, a Individuação na linguagem de Jung e o Fazer-alma nos termos de Hillman parecem mesmo implicar essencialmente no que Jung chamou de relativização do eu, algo que me soava aparentemente elementar, mas que hoje se me configura como de fato o interminável trabalho, vide nossos sonhos onde seguimos sendo a principal matéria prima, trabalhados continuamente na desmoralização, na impotência, no susto, no medo e na derrota.
Nossa inconsciência ecológica acerca do lixo físico que produzimos talvez reflita mais profundamente nossa primária ignorância acerca do lixo invisível das inflações personalistas em que vivemos e que traduz nosso grosseiro desconhecimento da realidade psíquica. Esse lixo material, nós até o identificamos, fazemos um breve contato com ele e o descartamos de forma repressiva, tornando-o aparentemente invisível, não sabemos por quanto tempo. Já o lixo emocional – que é por natureza invisível ao olho nu de nossa consciência literal cotidiana e que assim não é reconhecido enquanto tal, a menos que a franca neurose domine, – nesse lixão vivemos atolados sem mesmo o saber chamando-o simplesmente de realidade, uma realidade que pode até parecer bela, mas psicologicamente suja.
Podemos dizer que somos emocionalmente porcos. Vivemos numa espécie de chiqueiro imaginado-nos num palácio. Estamos quem sabe no palácio-chiqueiro de Circe, a feiticeira do Sol e suas ilusões personalistas da clara razão material. Com Ela, sentimo-nos conhecedores, conquistadores e intelectualmente superiores e assim somos transformados dia a dia em seus porcos, sem discernimento hermético, sem compreensão de que cada idéia, cada emoção, percepção ou julgamento não são literalmente nossos embora tenhamos a responsabilidade trágica em transportá-los na carne ou encená-los. Vivemos assim coletivamente no lixão invisível da Alma, sua nigredo, sem qualquer noção do fato, analfabetos de instrução psicológica a despeito de toda nossa evoluída sofisticação intelectual e material. Talvez por isso, só agora, nos primórdios do século XXI e sua cibercultura, possamos estar adentrando melhor na compreensão de Jung e seu diagnóstico da modernidade, o homem perdido da noção de Alma. Quem sabe a partir de agora, a nível cultural no ocidente, possamos fazer alguma retomada de nossa antiga consciência acerca da realidade da Alma ou Imaginação, como a temos chamado por aqui.
Metaforicamente, poderíamos dizer que vivemos de certa forma num mundo de Pais e Filhos ao invés de encararmos o mundo como um grande orfanato de irmãos, o que talvez nos fosse mais psicologicamente propício. O homem moderno, fruto de uma busca teológica paterna absoluta parece ter se enfiado totalmente na casa dos Pais, vivendo sob o teto orientador literal do velho sábio da razão e mamando exclusivamente nas tetas da realidade material. Nós, ainda modernos de fato, nos encontramos perdidos do sentido imaginativo do mundo, apegados às ilusórias certezas de um lugar absolutamente seguro ou literalmente nosso, incautos acerca do ensinamento de Tirésias a Odisseu — nosso lar é o caminho.
Ocupo-me literalmente a todo momento com meus erros e acertos, meus problemas, minhas convicções, minha ética e sentimentos, meus temores e minha importância ou desvalia. E toda essa apropriação psicologicamente ilícita, esse “lixeu”, parece se estender coletivamente em nossa poderosa inclinação capitalista e suas imagens heróicas de conquista, dominação e acúmulo racional e/ou material que refletem de certo modo nosso inflacionada mentalidade infantil, ou, em outras palavras, nossa falácia personalista materna, como diz Hillman. Mas, o mito precisa se cumprir, como falou Jung. Em outros termos, precisa se gastar. E enquanto nossa identidade for mono-miticamente heróica, talvez, apenas o cansaço possa de fato ir abatendo aos poucos ou relativizando nossa literal identificação com esse filho da Mãe.
Enquanto isso, insistimos na busca repetida, mais uma vez e sempre, do olhar psicológico, um olhar difícil de sustentar e/ou se manter e que requer um tônus sempre precário de uma frágil musculatura psico-oftálmica. Desse modo, qualquer milímetro de relativização cotidiana de “nosso próprio eu” diante da perspectiva da alma que por ventura consigamos, pode ser sempre festejado como uma espécie de prêmio Pestalozzi, ou, retornando à nossa metáfora do momento, uma premiação cívica para catadores e recicladores de lixo.
Essa nossa tendenciosa mania de etiquetar com o eu toda persona psíquica é provável que seja grandemente favorecida pela mentalidade monoteísta que nos é característica, nosso poderoso sentido de unidade que provavelmente torna-nos psicologicamente prisioneiros da casa paterna. Meu grande equívoco psíquico diário pode ser justamente querer definir quem sou, uma espécie de literalização da máxima délfica. Preocupando-me ordinariamente em definir a unidade ou a integralidade de minha personalidade, esqueço que ela é dada pela Alma que é incomensurável e portanto eternamente desconhecida, capaz de me transformar em outro a cada momento, capaz de me tronar irreconhecível aos meus próprios olhos no decorrer dos anos ou de instantes. Ao buscar ansiosamente a segurança da unidade de meu ser, minha integridade pessoal, perco de vista a realidade de que o todo encontra-se nas partes e que talvez só possamos viver aos pedaços, com a benção de Dioniso.
Uma perspectiva monoteísta, ou seja, o estabelecimento de uma proximidade insana entre eu e o divino Um, ignora que essa unidade absoluta seja de extrema periculosidade psicológica para o indivíduo. Não podemos negar a realidade dialética entre unidade e multiplicidade, como parecem atestar todas as religiões e mitologias, mas precisamos talvez entender que o Um necessita ser humanamente vivido a partir de sua miudeza em cada uma das partes que é também, paradoxalmente, uma unidade cósmica. A religiosidade politeísta talvez reflita essa sabedoria psicológica quando, mesmo não negando a suprema divindade absoluta, não concebe nosso culto ou acesso direto a ela, como que considerando tal proximidade uma espécie de hybris a ser cautelosamente evitada, como se a totalidade absoluta fosse de dimensões ou complexidades impossíveis de serem humana ou pessoalmente compreendidas. O ensinamento de Apolo dentro do cosmo politeísta grego parece ser a consciência do metron, a nossa medida, nosso limite. Conhecer-nos a nós mesmos, portanto, pode ser entendido como conhecer nossos limites humanos ou egóicos e termos maior ciência desses limites talvez seja uma grande proteção divina.
Cazuza disse, “eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou.” Os poetas sempre dizem a verdade da Alma e eu entendo que ele não esteja contradizendo a máxima apolínea e sim desconstruindo sua literalização cultural, pois provavelmente, conhecer a mim mesmo seja no fundo saber de minha total impotência em determinar literalmente o que sou, contentando-me em realizar os potenciais da hora ou do dia. Em outras palavras, deixar-me em paz para viver cada divina parte como se fosse o todo, o momento como único e último, deixando que a costura entre os divinos momentos que enfim fornecerá quem sabe algum esboço da totalidade do que pudemos ser, nos seja dada apenas pela Moira e sua tesoura de arremate.
O lixo Eu, o lixo meu, o lixo de meus incansáveis personalismos, que ele seja o ouro e que a alquimia de nossa intoxicação hermética atual, revele-o cada vez mais, tornando-o mais reconhecível à luz do dia. Hermes parece lidar bem com porcos. Serviu de intermediário na brutal ofensa do Invisível à Grande Porca, pareceu conhecer os mistérios da magia porca da Feiticeira do Sol a ponto de neutralizá-lo. Confiemos em sua maestria de chiqueiro para quem sabe trazer de volta nosso sentido de Alma perdido.
São Francisco Xavier, 30 de junho de 2016